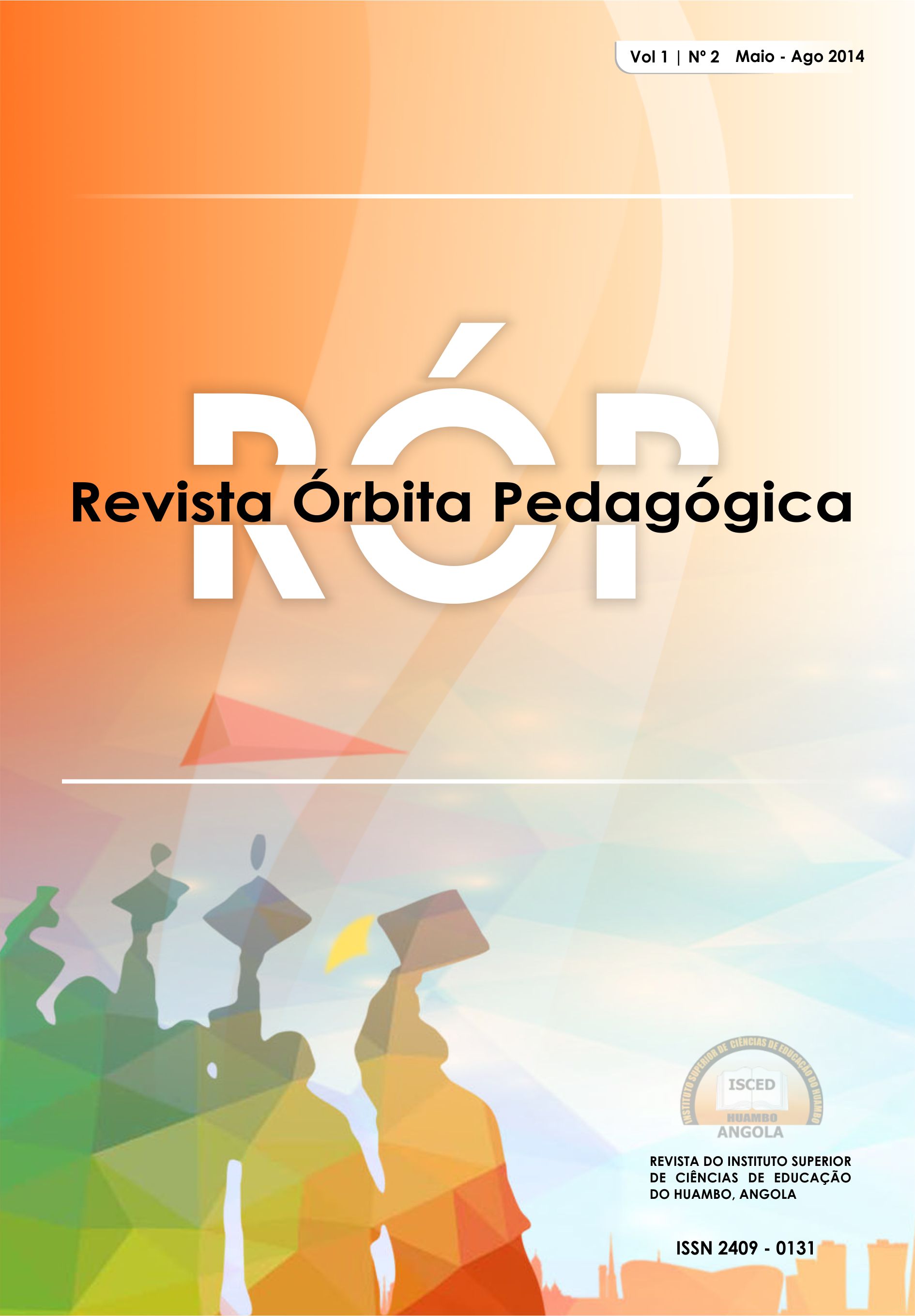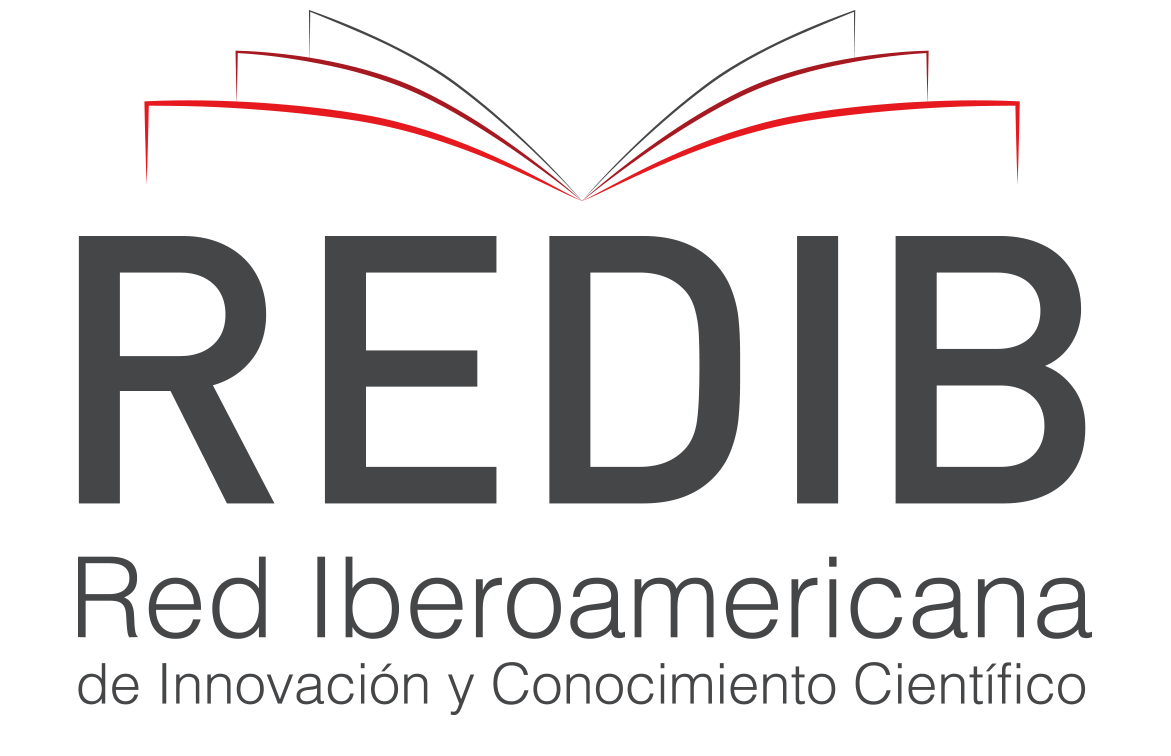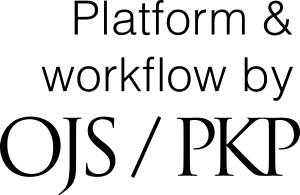POR QUE E COMO VALORIZAR OS CONHECIMENTOS PRÉVIOS DOS ESTUDANTES PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA?
Palavras-chave:
Ensino de matemática, Ensino de Geometria, Conhecimentos prévios, Educação matemáticaResumo
Neste trabalho discuto os conhecimentos prévios que os estudantes trazem à sala de aula, enquanto conjunto de explicações sobre determinado assunto, muitas vezes diferente dos saberes científicos apresentados pela escola. Este ponto é essencialmente importante, uma vez que possibilita ao professor desacreditar que a apropriação de um conhecimento acontece pela simples transmissão. Os conhecimentos prévios são explicações funcionais para os objetos e fenômenos, muitas vezes pouco elaborados que precisam ser identificados e levados em consideração pelos professores de Matemática. A partir daí, procura-se apresentar alguns instrumentos que buscam valorizar os conhecimentos prévios dos estudantes. O ensino deve basear-se nas experiências pessoais que o estudante vivencia e o papel do professor está na orientação e regulação das atividades, com vistas à transformação dos conhecimentos prévios em sua estrutura cognitiva. Assim, de acordo com o pensamento ausubeliano, se o professor deseja ensinar significativamente, é preciso descobrir aquilo que o estudante já sabe, para enfim, direcionar seus ensinamentos.
Referências
AUSUBEL, D. P. (2003). Aquisição e Retenção de Conhecimentos: Uma Perspectiva Cognitiva. Lisboa: Plátano. AUSUBEL, D.P; NOVAK, J.D.;
HANESIAN, H. (1980). Psicologia Educacional. Rio de Janeiro: Interamericana.
BARBOSA, R. H. S. (2001). Mulheres, reprodução e aids: as tramas da ideologia na assistência à saúde de gestantes HIV+. São Paulo. 310 f. Tese (Doutorado em Saúde Pública), Escola Nacional de Saúde Pública.
BASTOS, F. (2005). Construtivismo e ensino de ciências. In: NARDI, R. Questões atuais no ensino de ciências. Série Educação para a ciência. São Paulo: Escrituras. p.9-25 BOYER, C.B. (2009). História da Matemática. 2º ed. São Paulo:
Blücher. BIZZO, N. (2007). Ciências: fácil ou difícil? 2. ed. São Paulo: Ática. BORGES, M. R.; MORAES, R. (2008). Educação em Ciências nas séries iniciais. Porto Alegre: Sagra Luzzatto.
BRUM, W.P. (2013). Abordagem de conceitos elementares de geometria esférica e hiperbólica no ensino médio usando uma sequência didática. 187f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática) - Universidade Regional de Blumenau.
CARRASCOSA, J., PEREZ, D.; VALDÉS, P. (2005). Como ativar a aprendizagem significativa conceitos e teorias? Santiago: OREALC / UNESCO.
CARVALHO, A.M.P. (2004). Critérios estruturantes para o ensino de ciências. In: “Ensino de Ciências: Unindo a Pesquisa e a Prática”. São Paulo: Thomsom Pioneira. p.1-14.
CHARTIER, R. (2005). A história cultural: entre práticas e representações. Lisboa: DIFEL; Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. COLL, C., et al. (2012). O Construtivismo na Sala de Aula. São Paulo: Ática.
DERDYK, E. (2003). Formas de pensar o desenho: desenvolvimento do grafismo infantil. São Paulo: Scipione. FINKEL, C. L. (2008). Teaching with your Mouth shut. Portsmouth, UK: Heineman.
FRANCASTEL, P. (2007). Imagem, Visão e Imaginação. Lisboa: Edições 70. FURTADO, J. P. (2001). Um método construtivista para a avaliação em saúde. Ciênc. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, vol.6, nº. 1, 2001, p. 165-181.
GUBA, E.; LINCOLN, Y. S. (1989). Fourth generation evaluation. Newbury Park: Sage. 294p.
HEDEGAARD, M. (2002). A ZDP como base para a instrução. In: MOLL, L. C. Vygotsky e a educação: implicações pedagógicas da psicologia sócio-histórica. Porto Alegre: Artmed, p. 341-362, 2002. KUJAWA, S.;
HUSKE, L. (1995). The Strategic Teaching and Reading Project guidebook (Rev. ed.). Oak Brook, IL: North Central Regional Educational Laborator.
LIMA, G. A. B. (2004). Mapa conceitual como ferramenta para organização do conhecimento em sistema de hipertextos e seus aspectos cognitivos. Perspectiva em Ciência da Informação, Belo Horizonte, v. 9, n. 2, p. 134-145, jul./dez. 2004.
MINAYO, M.C. de S. (2000). Pesquisa social: teoria método e criatividade. 16ª ed. Petrópolis: Vozes.
MIRAS, M. (2005). O ponto de partida para a aprendizagem de novos conteúdos: os conhecimentos prévios. In: COLL, C. O construtivismo em sala de aula. São Paulo: Editora Ática, 2006. p.57-76.
MOREIRA, M. A. (2010). Mapas conceituais e aprendizagem significativa. São Paulo: Centauro. MOREIRA, M.A.; MASINI, E. F. S. (2010).
Aprendizagem significativa: A teoria de David Ausubel. São Paulo: Centauro. MORTIMER, E. F. (2000). Pressupostos epistemológicos para uma metodologia de ensino de química: mudança conceitual e perfil epistemológico. Química Nova, v. 15, n. 3, p. 242-249, 2000. NAGEM,
R., CARVALHAES, D.; DIAS, J. (2001). Uma proposta de metodologia de ensino com analogias. Revista Portuguesa de Educação, 14 (1), 197-213, 2001.
NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. (2008). Criação de conhecimento na empresa. Rio de Janeiro: Campus. NOVAK, J. D.; CAÑAS, A. J. (2013).
The Theory Underlying Concept Maps and How to Construct and Use Them: Disponível em: http://cmap.ihmc.us/ConceptMaps.htm. Acesso em: 11 set. 2013.
NOVAK, J.D.; GOWIN, B. D. (2007). Aprender a Aprender. 2ª. ed. Lisboa: Plátano Edições Técnicas.
OLIVA, J.M. (2004). El Pensamiento Analógico desde la Investigación Educativa y desde la Perspectiva del Profesor de Ciências. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, 3(3), 2004.
OLIVEIRA, L. L. (2005). Imaginário Histórico e Poder Cultural: as Comemorações do Descobrimento. Estudos Históricos, Rio de Janeiro:
CPDOC; FGV, vol. 14, n. 26, 2005, p.183-202. PAIVA, A.L.B.; MARTINS, C. M. C. Concepções prévias de alunos de terceiro ano do Ensino Médio a respeito de temas na área de Genética. Disponível: <http://www.fae.ufmg.br/ensaio/vol7especial/artigopaivaemartins.pdf >
Acesso em: 20 out. 2013. PESHKIN, A. (2003). he relationship between culture and curriculum: A many fitting thing. In P.W. Jackson (Ed.), Handbook on research on curriculum, (pp. 248-267). New York: Macmillan.
PILLAR, A. D. (2006). Desenho e escrita como sistema de representação. Porto Alegre: Artes Médicas. POZO, J.I. (2010). Teorias cognitivas da aprendizagem. 4ª. ed. São Paulo: Artes Medicas. ROSA, S.S. (2003). Construtivismo e mudança. São Paulo:
Cortez. SAIANI, C. (2003). Valorizando o conhecimento tácito: a epistemologia de Michael Polanyl na escola. Tese (Doutoramento em Educação). SP:
USP. SCHROEDER, E. (2013). Os conceitos espontâneos dos estudantes como referencial para o planejamento de aulas de ciências: análise de uma experiência didática para o estudo dos répteis a partir da teoria histórico cultural do desenvolvimento. Experiências em Ensino de Ciências, v.8, n.1, 2013.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Secção
Licença
Direitos de Autor (c) 2022 Wanderley Pivatto Brum

Este trabalho encontra-se publicado com a Licença Internacional Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0.